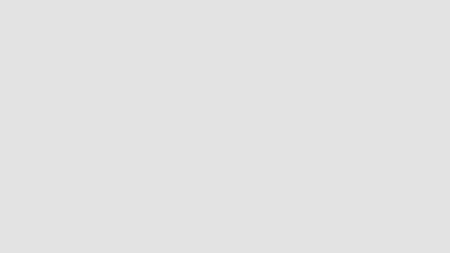"Tem-se verificado, nos últimos anos, que alguns produtos naturais marinhos apresentam-se como fontes promissoras de agentes anti-incrustantes, no entanto, a sua origem em fontes naturais dificulta a sua produção em grande escala", disse à Lusa a investigadora do Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental (CIIMAR), Marta Correia da Silva.
De acordo com a também docente da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto (FFUP), a síntese química é preferível à recolha dos organismos do meio natural e à extração dos compostos ativos, por ser mais sustentável e amiga do ambiente, evitando a exaustão dos recursos naturais.
A bio-incrustação causa "sérios problemas e grandes investimentos" para a indústria marítima, tanto na sua prevenção como controlo, visto provocar um aumento da corrosão de todos os materiais submersos, afetar as atividades ligadas à navegação (diminuindo a velocidade do navio e aumentando o consumo de combustível), à aquacultura (colmatação das redes e competição por alimento) e às energias marinhas.
O mexilhão é uma das "principais espécies" associadas à bio-incrustação, possuindo caraterísticas que contribuem para que "colonize rapidamente" e seja "difícil de remover das estruturas submersas".
A procura de um substrato adequado "para fixação e posterior adesão dos mexilhões inicia-se ainda em fase larvar", pelo que "é essencial" usar estes estádios iniciais de vida para "desenvolver eficazmente novas soluções anti-incrustantes", acrescentou.
Uma camada de limos de um milímetro num casco "provoca um aumento de cerca de 80% do atrito e uma diminuição de 15% da velocidade do navio", enquanto que, quando se trata de organismos maiores, como mexilhões, cracas e algas, "devido ao aumento do atrito e do peso, pode haver um crescimento de consumo de combustível de até 40% e 77% no custo total da viagem", explicou Marta Correia da Silva.
Os prejuízos ecológicos passam pela contaminação global dos ecossistemas aquando do uso de revestimentos tóxicos, pelo transporte de espécies indígenas nos cascos dos barcos e consequente dispersão de espécies em outros lugares.
Segundo a docente da FFUP, esta problemática e o seu combate não são recentes. Em 1950 surgiram as primeiras tintas à base de TBT (tributilestanho), cujo uso foi restringido pela Comunidade Europeia em 1989, vindo a ser totalmente proibido em 2008 por serem nocivas para o meio ambiente e interferirem também com o sistema hormonal dos organismos, provocando inclusivamente mudanças de sexo e causando obesidade.
Em alguns países "com poucos recursos", onde a regulamentação, a fiscalização e a sensibilização "são menores", essas tintas ainda são usadas, devido à sua enorme eficiência e baixo custo. Contudo, os navios assim revestidos estão proibidos de entrar em águas e portos europeus, indicou ainda a investigadora.
Atualmente, as embarcações são revestidas por polímeros à base de biocidas que combinam o cobre com pesticidas e herbicidas utilizados na agricultura, sendo ainda tóxicos para o meio ambiente.
Este estudo foi publicado segunda-feira na revista científica 'Scientific Reports', do grupo 'Nature', por profissionais do CIIMAR, da FFUP e da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto (FCUP), sendo investigadora do CIIMAR Joana Reis de Almeida a autora principal.