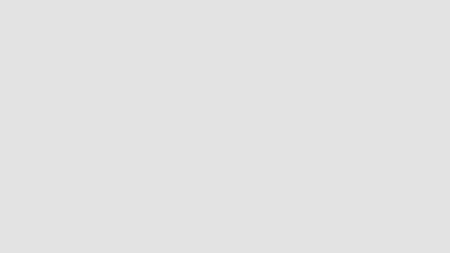O antigo ministro da Cultura afirma ser “filósofo por vocação e um político por missão”. No seu mais recente livro ‘Ser Contemporâneo do Seu Tempo’ aborda a sua carreira política, assim como as mudanças que aconteceram na Europa e no mundo desde então.
Agora, longe da política ativa e de momentos mais negros da sua vida pessoal – sobre os quais fala na segunda parte desta entrevista – Manuel Maria Carrilho abriu a porta de sua casa ao Notícias ao Minuto para uma conversa que vai do panorama da cultura em Portugal a José Sócrates, de quem foi, desde sempre, forte crítico.
O livro ‘Ser Contemporâneo do Seu Tempo’ mostra várias vertentes suas. Político, filósofo, mas também combativo. Como se classifica Manuel Maria Carrilho?
É uma questão que se me põe frequentemente. Naturalmente que sou mais conhecido, porque tem mais projeção pública, como político. O que é quase o oposto do filósofo que é uma pessoa reservada, universitário, com um mundo relativamente restrito. A política diz respeito à vida de toda a gente. Agora, gostei sempre muito de fazer política. Vivi sempre muito intensamente a política desde os meus tempos do liceu. A minha família também, o meu pai era um homem do antigo regime mas que fez toda a vida política. Teve diversos cargos políticos, aos quais eu, em diversas ocasiões, me opus claramente. Mas eu gosto muito de uma frase que é de um filósofo, Bergson, que é ‘sinto-me sempre um filósofo por vocação e um político por missão’. Acho que é tragicamente essa ligação entre o pensamento e a ação a rutura mais grave que houve na política no nosso tempo.
Não haverá muitos políticos que tenham feito o trajeto que eu fiz. A matriz da minha vida é a filosofia mas sempre ligada à política
Como se dá a entrada na política?
Entrei na política em 1986, filiando-me no Partido Socialista, mas, assim a fazer política, entrei como ministro da Cultura pela mão de António Guterres em 1995. Digo que a filosofia é mais importante porque nunca podia ter deixado de ser filósofo. Na altura, era uma opção que ninguém fazia. Eu era de Direito. Não haverá muitos políticos que tenham feito o trajeto que eu fiz, sair do lugar que tinha, era professor catedrático aos 44 anos na Universidade Nova de Lisboa, e voltar à universidade passado um tempo, não fui nem para fundações, nem direções, nem empresas, voltei à minha vida e retomei os meus livros. Isso é que é a minha identidade profunda. A política representou uma oportunidade absolutamente fantástica - serei sempre grato a António Guterres - que é a de fazer. A matriz da minha vida é a filosofia mas sempre ligada à política.
Essa ligação à política começa desde cedo. Até porque como revela no livro, foi ‘Guevarista’…
Fui Guevarista em 1967, no liceu. O Guevara era um revolucionário que tinha uma aura romântica. Foi assassinado na Bolívia, fez a revolução de Cuba, podia ter sido tudo em Cuba, mas recusou tudo e foi tentar exportar a revolução para a América Latina. Nós, eu e um pequeno grupo, criámos esse grupo de Guevaristas, usávamos a boina com a estrela. Tem a ver com uma certa rebeldia, fora das ortodoxias. Fora do comunismo tradicional, dos Maoismos, uma rebeldia contra o regime, porque vivíamos em ditadura. Tive sempre muita necessidade de discutir, discutir no sentido de expor as minhas ideias ao escrutínio. Há uma dinâmica do pensar que se liga com o debate.
Deixou Viseu, veio para Lisboa estudar. Como foi a nível político a mudança para a capital?
Tive sempre essa dimensão de gostar de intervir nas coisas políticas, em Viseu ainda fiz as campanhas de 1969, ainda houve uma simulação de eleições. Vim para Lisboa e fui para Faculdade de Letras. A minha integração em Lisboa faz-se pelo lado intelectual. Por mero acaso, conheci logo um intelectual, que foi talvez o intelectual mais importante do fim do século passado e do começo deste século, o Eduardo Prado Coelho, tornámo-nos grandes amigos. Até ao 25 de Abril, tinha uma atividade muito clandestina, nunca militei em partido nenhum, mas muito ligada ao Partido Comunista. Posso dizer-lhe que grande parte da propaganda distribuída em Lisboa no 50.º aniversário da morte de Lenine foi transportada secretamente no carro do meu pai que, na altura era Presidente da Comissão de Planeamento, fui eu que a trouxe para cá. Depois dá-se a Revolução.
Diz no livro que se fosse chamado para a Guerra Colonial desertaria. Porquê?
Desertaria certamente, por razões de princípio. Não faria a Guerra Colonial, fui sempre contra o colonialismo. Em 1973, estava a pensar ir para fora. Tinha muitos amigos exilados. Muitos amigos que viviam em Paris, frequentavam, na altura, seminários de filósofos importantes, eu hesitava entre ir para lá, para a Suécia e Londres. Mas não tinha dúvida nenhuma de que no ano seguinte, se não tivesse sido o 25 de Abril, tinha acabado o curso e iria ser chamado para a tropa. Ia tentar o adiamento com o doutoramento e com tudo isso, mas se fosse chamado para a Guerra Colonial ir-me-ia embora. O 25 de Abril alterou tudo. Fico cá, começo a ensinar, vou para a Universidade Nova, onde faço a minha carreira, e vou sempre sendo um acompanhante de 'route' do Partido Socialista.
Era próximo do PS e, sobretudo, de Mário Soares, de quem fui muito amigo, pela lucidez que me pareceu ter. Acho que a nossa obrigação como políticos e filósofos é alargar o campo dos possíveis, mas fazê-lo com algum realismo. A certa altura, depois do 25 de Abril, perdeu-se toda a noção do realismo. Do que era efetivamente possível de fazer naquele momento.
Acho que Mário Soares foi fundamental para isso. Traçou algumas metas, com muita coragem, que é a qualidade que mais aprecio nas pessoas. Fui sempre muito próximo do PS, já na faculdade tinha muita estima pelo Jaime Gama, que também é de Filosofia. Só quando Mário Soares foi Presidente da República é que aderi ao PS. Quando Jaime Gama perdeu para Vitor Constâncio, ele e o José Leitão, que foi presidente da JS, propuseram-me e eu entrei para o PS, e sempre que me pediram colaboração eu dei. Nunca pedi nada, mantive sempre a minha vida académica. Em 1991, Jorge Sampaio pediu-me para fazer o programa de cultura.
Onde se joga o drama português é na desqualificação. Quando os países nórdicos tinham 5% de analfabetos, no princípio do século passado, nós tínhamos 95% Foi aí que começou a especializar-se numa pasta que viria a ser sua?
Não, quer dizer, há uma área que chamo genericamente a área da qualificação, que é onde se joga o drama português que é na desqualificação dos portugueses. Lembro sempre, quando os países nórdicos tinham 5% de analfabetos, no princípio do século passado, nós tínhamos 95%. A minha batalha foi sempre a da qualificação, não a da cultura. A formação das pessoas, a qualificação do território e a qualidade das instituições.
Como chega então a ministro da Cultura?
O Guterres, em 1995, convidou-me para a Educação. Eu na altura recusei, não estava interessado. Até porque na altura, a partir de 1987, houve uma progressiva internacionalização do meu trabalho. Participei em muitos colóquios, participei na criação e direção de um Centro em Bruxelas, na ULB, que era o Centro Europeu do Estudo para a Argumentação. Em 1992, publico o primeiro livro de uma coleção de Filosofia, em Paris.
Estava cada vez menos ligado à política cá. Seguia sempre porque sigo tudo, mas tinha muito trabalho também na Universidade de Berkeley e, portanto, estava muito longe de pensar em me envolver na política. Quem realmente me envolve acaba por não ser o Guterres, mas sim o Rui Vieira Nery e o Ricardo Pais, que um dia iam para uma reunião dos Estados Gerais sobre a cultura. Insistem que eu vá, eu fui e já não saí mais. Também vi um espírito que não se vê em geral nos partidos, os partidos são coisas muito fechadas, muito pobres, e eu comecei a pouco e pouco a ajudar. Percebi que o António Guterres valorizava muito as minhas intervenções. Ganhámos as eleições e fui confrontado com o convite para ser ministro da Cultura quando estava prestes a começar a dar aulas em Bruxelas.
Ainda dei a primeira aula pensando que era possível conciliar as coisas. Decidi que aceitava e esse período para mim foi fascinante porque pude construir o Ministério da Cultura, que não existia. Herdei uma sub-secretaria de Estado. O Santana Lopes tinha abandonado a secretaria de Estado por questões internas do PSD, o Cavaco tinha-se recusado a nomear sucessor e deixou aquilo nas mãos de Manuel Frexes que não fez nada, manteve a máquina em funcionamento, digamos.
Portanto, construiu o Ministério da Cultura de raiz...
O ministério foi construído de raiz. Começámos por opções muito fortes, como Foz-Côa, que teve um impacto internacional brutal, e decidi que, com o apoio do Guterres, apesar de já terem sido investidos 250 milhões de euros, parávamos a construção (da barragem) e que preservamos gravuras únicas no mundo. Foi aí que começámos a ganhar a batalha da cultura, a cultura tem, digamos, o destaque que veio a ter, porque ganhar uma batalha destas, é ganhar uma batalha contra o betão.
O que houve de fantástico n a cultura nesse momento, que nunca mais houve, foi, na minha opinião, uma equipa absolutamente fantástica. Ricardo Pais, José Matoso, Raquel Henriques da Silva, uma equipa de sonho toda ela motivada pelo espírito de missão. Pessoas que foram para ali perder dinheiro. Pessoas que acreditavam que havia ali uma oportunidade. Ajudou, durante um tempo, o apoio e enquadramento de António Guterres que foi, sem dúvida, o primeiro-ministro que mais atenção deu à cultura.
No Porto o seu trabalho deixou marca.
No Porto fizemos a Casa da Música, o Museu de Serralves, a Casa das Artes, a Orquestra Sinfónica, veja o que de repente, se conseguiu. A cultura tem um problema para se desenvolver: é que só acontece onde há massa crítica, onde há público, onde há capital…
Sempre que há oferta cultural nós temos público. Há muito esta conversa, que eu nunca utilizei, dos subsídios. Se se der mil euros a um artista é um subsídio, mas se der 100 mil a um agricultor é um financiamento. A palavra subsídio para mim não existe. Há financiamento, que se faz ou não se faz.
Não é uma flor na lapela. A cultura é tão importante como a educação, como a saúde, e é por isso que se criou um ministério Há, no livro, muita gente que o considera o melhor ministro da Cultura que Portugal teve. Quais foram as maiores dificuldades que encontrou nesse tempo?
A maior dificuldade é impor, uma coisa que me deu muito trabalho, que a cultura é uma dimensão fundamental à governação do país, e nisso a cumplicidade com António Guterres foi decisiva. Não é uma flor na lapela como eu digo sempre. A cultura é tão importante como a educação, como a saúde, e é por isso que se criou um ministério.
Acha que hoje ainda não se percebe isso?
Acho que se perdeu muito isso, tanto se perdeu que acabou o ministério durante o período de Passos Coelho e hoje continua sem lei orgânica, continua na tutela do primeiro-ministro, não tem autonomia. Hoje em dia nós temos uma inexistência total de política na cultura. A cultura precisa de ter peso político e ter um interlocutor que, em Conselho de Ministros, valha a sua palavra tanto como o outro, não é um pintor, um poeta, isso não dá peso à cultura.
O Orçamento do Estado para a cultura é inferior ao orçamento da Ópera de ParisComo assiste de fora, depois de lutar para colocar a cultura em pé de igualdade com outros ministérios, à cultura a voltar ao ponto de partida?
É com muita tristeza que vejo a destruição que infelizmente começou com governos ainda do partido socialista, com José Sócrates. Falei com ele várias vezes, falei com vários responsáveis, são pessoas totalmente insensíveis. Insensíveis ao papel da cultura na governação. Só são sensíveis à propaganda. A política, como dizia um presidente americano, é o orçamento. Nós, no ano passado, tínhamos um orçamento no país inferior ao orçamento da Ópera de Paris. O Orçamento do Estado para a cultura é inferior ao orçamento da Ópera de Paris, portanto, diga-me o que é possível fazer.
A sua saída do Ministério também se deveu a cortes na cultura?
Infelizmente no ano 2000, por responsabilidade do ministro das Finanças, que era o Pina Moura, começa a haver cortes no orçamento da cultura que eu disse ao primeiro-ministro que eram intoleráveis. Para já, bloqueavam tudo aquilo que ele me tinha pedido para fazer. As dificuldades orçamentais tornavam impossíveis. As pessoas dizem que eu consegui muito dinheiro mas nós estávamos à pele, a fazer as coisas indispensáveis, mas não podíamos ter menos que aquilo, ainda por cima, grande parte do dinheiro tinha sido arranjado na Europa e o que me começou a faltar foram as contrapartidas. A Europa nunca dá 100%, dá 75 e começo a obter ali dificuldades. Em abril nós tínhamos a presidência europeia e eu disse ao primeiro-ministro que se não se resolvesse o problema eu me ia embora. Durante muito tempo ele não acreditou mas a 17 de abril eu disse-lhe que faria a presidência portuguesa e este problema tinha de ser resolvido. Ele todos os Conselhos de Ministros me garantia que ia ser resolvido e o problema continuou de 17 de abril até 30 de janeiro. No dia 7, no Conselho de Ministros seguinte, demiti-me. Vim-me embora de consciência tranquila.
Há uma mudança grande no fim do Guterrismo. O Guterres tem aquele sonho da maioria absoluta que se esfumou com o empate (115 para o PS 115 para a oposição). No último ano ele teve problemas pessoais, que merecem respeito e que tiveram consequências funestas na pessoa, como se sabe. Mas 1999 já foi um ano muito complicado. De resto, tive um almoço final com o primeiro-ministro no dia em que lhe disse que me queria ir embora. Ele esteve a tentar convencer-me para não sair e eu disse-lhe ‘António, quem sinto que quer ir embora, é você. Você desistiu de governar desde que nós não temos a maioria absoluta’.
Nós temos a presidência europeia, o António Guterres está permanentemente muito feliz em todos os encontros europeus porque é o que ele gosta, da política internacional, como se vê agora. E o país foi completamente entregue ao partido.
Mas disse que ele foi dos maiores impulsionadores da Cultura em Portugal. Acabou por desistir da causa?
Desistiu de tudo. Começou o futebol de novo com o europeu de 2004, parvoíces como juntar o governo todo no estádio nacional a pedir apoio, quer dizer, futebol sempre tivemos. Fizemos o combate ao Cavaquismo em nome do combate pela qualificação contra o betão e acabámos esse período rendidos ao betão. Eu vim-me embora.
Talvez eu seja um mau político. Não tenho realmente aquilo que se chama a cultura do partido, tenho a cultura do país… Diz que é desprendido de poder. Será essa uma das melhores ferramentas para fazer política?
Se calhar não é, eu muitas vezes tenho pensado se fiz bem se fiz mal. Muita gente da área da cultura e da política diz que eu fiz mal, que me devia ter mantido e batido, que é assim que se faz. Talvez eu seja um mau político. Eu não tenho realmente aquilo que se chama a cultura do partido, tenho a cultura do país…
Via a cultura de forma demasiado romântica?
Não, não. Isso existe em vários sítios, com mais força até. É uma questão de opção política, nós assistimos a um progressivo afastamento entre o pensamento e a ação desde os anos 70. A política cada vez se liga mais à comunicação, à propaganda. Não é possível fazer-se política sem se ter um projeto e não é possível ter um projeto se não se pensa no tempo. ‘Que projetos é que você tem para esta semana?’. É assim que hoje se faz a política.
Conhece algum partido que tenha hoje um programa para o país? Nós estamos a reboque da Europa e ponto final No livro, Manuel Maria Carrilho diz: ‘dão-se palpites, e em geral, fazem-se grandes disparates’. Acha que foi a partir do fim do ‘Guterrismo’ que política deixou de ser pensada?
Conhece algum partido que tenha hoje um programa para o país? Nós estamos a reboque da Europa e ponto final. Somos um país um bocado atordoado a reboque da Europa, sem se pensar absolutamente em nada. Agora que se aproxima o congresso do Partido Socialista - com toda a gente a perguntar-se se a social-democracia ainda existe, nós sabemos que a social-democracia acabou - nós vemos o debate entre o Pedro Nuno Santos, o Francisco Assis, o Santos Silva, aquilo parecem jogos florais de criancinhas ou adolescentes, estão a falar de uma coisa que desapareceu há 20 anos. A social-democracia desapareceu desde que o individualismo contemporâneo e a globalização se impuseram. A social-democracia foi absolutamente fundamental, mas todas estas coisas são históricas e passageiras. Não anteciparam nada, nem a robotização, nem a globalização, nem as transformações dos países emergentes, de nada.
O capital globaliza-se completamente, o trabalho fica completamente localizado. A social-democracia era uma arma crítica do capitalismo, como deve ser, mas hoje as circunstâncias são completamente diferentes. O capitalismo de que falava a social-democracia já não existe. Nós estamos em política, do meu ponto de vista, a falar de entidades que já não existem. Não existe a social-democracia mas também já não existe a democracia cristã, como não existe liberalismo em sítio nenhum.
Hoje temos o poder individual. O povo, ao nível do coletivo, não tem poder nenhum. É aí que eu acho que a Europa foi o grande equívoco Então o que é que existe?
Hoje existe financismo, uma transformação brutal do capitalismo numa nova versão orgânica, global, que é o financismo. O individualismo total em que o coletivo desaparece, isto é uma coisa que começou no século XVIII não é uma coisa que começou na semana passada. Perdemos completamente a noção do coletivo e estamos nesta situação paradoxal em que somos completamente livres, cada um faz o quiser da sua vida, diz o que lhe apetecer individualmente, e coletivamente vivemos na impotência total. Está-se permanentemente a dizer que não se pode fazer isto, não se pode fazer aquilo… A democracia, e isto é muito grave no meu ponto de vista, foi sempre uma ligação entre a liberdade individual e o poder do coletivo. Nós hoje temos o poder individual. O povo, ao nível do coletivo, não tem poder nenhum. É aí que eu acho que a Europa foi o grande equívoco.
Acha que essas mudanças são fruto do chamado sonho europeu?
A Europa emerge, compreensivelmente, como uma causa no pós-guerra. Muitas vezes esquece-se que a Europa é um continente de guerras medonhas, durante séculos e séculos. Portanto, a causa da paz é uma causa fundamental. Nasce em condições muito facilitadas por um adversário que era o comunismo, mas sofre uma enorme transformação nos anos 80/90 que lhe é fatal, que é em converter-se em sucessor do socialismo. Justamente desta social-democracia que faliu. Porque veja, quem é que a inventa, é o Miterrand a seguir ao seu fiasco socialista. O Miterrand lança o seu programa em 1981, em 83 tem de desfazer completamente as nacionalizações, em dois anos o programa revelou-se um fiasco mas ele nunca o assumiu. Não há uma palavra do Miterrand a assumir o que fez. O que ele fez foi, a partir dali, dizer que a Europa é o nosso destino.
Não deixa de ser uma jogada política brilhante…
Brilhante, mas sem sustentação. O problema é fazer a Europa. É fazer a Europa partir do que tínhamos na altura. Poucos países, quando nós entramos eram seis, hoje é uma coisa ingerível.
O problema terá sido aumentar-se demais?
Já lá vamos, mas para mim essa foi a decisão fatal na Europa. Foi tomada em 2004 por Durão Barroso, talvez tenha sido por isso que ele lá foi posto. Era difícil não o fazer, muito difícil, que foi o alargamento aos países de Leste que foi feito em 2004.
O problema aqui é que se apresentou a Europa como sendo, digamos, o sucessor do socialismo. De resto, muitas vezes perguntei ao Mário Soares, ‘o que é que a Europa tem de socialista?’. É a circulação de capitais, é a livre circulação de bens, é a guarda avançada da globalização? Dizemos que a Europa é o escudo contra a globalização? Isso é a coisa mais absurda que há.
Hoje os países não vivem como verdadeiramente soberanos. Vivem a reboque da Europa e a Europa está numa crise sem saída. A meu ver, porque se avançou para uma solução desta da moeda única sem condições para o fazer, perdeu-se o momento da federação que era vital para a moeda única, a união política. Portanto, nós temos hoje uma coisa que se chama Europa e que se sustenta sobretudo pelo medo.
Medo de quê?
Pelo medo do que pode acontecer, imagine se o euro acaba. Alguém acredita na Europa? Havia um entusiasmo pela Europa, hoje não. Hoje há o medo que isto acabe porque ninguém sabe o que lá vem.
*Pode ler a segunda parte desta entrevista aqui.