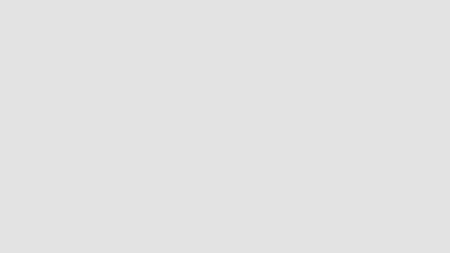Ana Cláudia Quintana Arantes, de 50 anos, é médica em São Paulo, no Brasil. Há cerca de 20, decidiu dedicar-se aos cuidados paliativos, ajudando os doentes sem possibilidade de cura a transformar o “morrer em viver” até ao último suspiro.
Depois de vários anos a exercer, percebeu que a medicina “não está preparada para cuidar das pessoas até ao seu último momento de vida”. Por isso decidiu pôr mãos à obra e começou a lutar pelos direitos destes utentes.
Transformou-se numa das pioneiras em cuidados paliativos no Brasil, disciplina que leciona como professora universitária, e publicou o livro ‘A Morte é Um Dia que Vale a Pena Viver’, onde revela não só as suas “notas e reflexões” sobre esta área, como também o que aprendeu sobre a vida e a morte, sobre o que é importante e acessório, sobre o amor, a compaixão, a generosidade e o medo.
Ao Notícias ao Minuto, Ana Arantes revelou algumas das histórias que mais a marcaram durante estes anos e deixou lições para aprendermos a viver de forma a não nos arrependermos de nada quando soubermos que estamos a morrer, porque aí... já será tarde demais.
Porque é que decidiu escrever um livro que fala de morte. Acha que ainda é difícil falar da morte no Ocidente?
A decisão de escrever o livro não veio com esse objetivo. Ao longo do tempo, nesta minha carreira, cuidando das pessoas, escrevi as minhas notas e reflexões a respeito deste trajeto, destas pessoas que estão na fase final da vida. Comecei a juntar e ficou num formato mais ou menos de um livro. O convite de facto, oficial, surgiu depois da realização de uma palestra, que ficou com o mesmo nome do livro - ‘A Morte É Um Dia Que Vale a Pena Viver’. Falar da morte é difícil em qualquer lugar. No Oriente existe uma cultura que acalenta a nossa consciência da morte. A sociedade é preparada para receber a morte na sua família, na sua vida, no seu dia-a-dia. No Ocidente nós não falamos sobre isso, por isso é muito mais difícil contemplar a necessidade de aceitação, compreensão da própria experiência, do luto.
Quando diz que a morte é um dia que vale a pena viver (título do livro), isso quer dizer que tem algo de bonito? De reconciliador? Ou que poderia ser vivido de outra forma, menos dolorosa? Parece uma provocação à forma como o Ocidente vê a morte…
O título do livro faz, para mim, uma triagem. Só passa da capa quem tem curiosidade porque é que a morte pode ser um dia que vale a pena viver? Há pessoas que têm absoluta certeza que não vale a pena viver. Essas têm muitas dificuldades de viver qualquer dia que valha a pena porque elas estão sempre a querer adiar a perceção de perda ou de risco de frustração. Não querem viver nenhum dia que possa trazer essa possibilidade e esses dias também são dias que valem a pena viver, porque é nesses dias, em que experimentamos a frustração, a perda e a dificuldade, que também percebemos a nossa força. A morte tem a sua beleza fundamentada na paz do fim, da tormenta. Vivemos a tormenta da doença, do sofrimento, do medo e a morte, os momentos finais, trazem para as pessoas a possibilidade de pacificação, de tranquilidade, de missão cumprida. É aquele último suspiro que damos quando entregamos algo que é muito importante e que conseguimos terminar.
É um preconceito que existe na medicina. Dão pouco valor porque não curamos as pessoas e o valor dentro da medicina é reconhecido ao que sabe curar e eu sei curar muita ferida, muita dor de alma, mas a doença do paciente não
No livro, revela que os primeiros tempos a exercer medicina foram muito difíceis, que chegou mesmo a pensar desistir da profissão. O que é que era mais difícil nessa altura?
Não ter com quem falar sobre o sofrimento, não ter nenhum professor, nenhum colega, alguém com quem pudesse conversar acerca do que via e do que via que estava a acontecer e ninguém está a ver. Ninguém está com os olhos atentos para aquilo que está a acontecer, como se as pessoas quisessem fingir que aquilo não existe. Para mim isso foi muito difícil.
Porque é que a Ana escolheu enveredar pelos cuidados paliativos?
Os cuidados paliativos é que vieram até mim, não fui eu até eles porque nem sabia o que procurar para aprender a lidar com o sofrimento humano. No segundo ano de residência médica, na geriatria, uma enfermeira ofereceu-me o livro da Elizabeth Clare Boss, sobre a morte e morrer. Devorei esse livro como se fosse a minha salvação. Estava num mar imenso, à deriva, sem saber o que fazer com aquilo que via, com o sofrimento dos pacientes, com o sofrimento das famílias. Sentia que aquilo que a medicina tinha para oferecer a estas pessoas era muito pouco e tinha que existir alguma coisa que podia ser feita, pelo menos pelo sofrimento físico e quando li esse livro vi que havia muito mais por fazer. Não só pelo sofrimento físico, mas também pelo sofrimento emocional, social, espiritual, familiar. A partir daí, pesquisei sobre o que existia sobre cuidados paliativos, que era uma área muito preciosa, e dediquei-me a isso.
Tem de lidar com muitos preconceitos por ser médica dos cuidados paliativos?
Sempre! É um preconceito que existe na medicina. Dão pouco valor porque não curamos as pessoas e o valor dentro da medicina é reconhecido ao que sabe curar e eu sei curar muita ferida, muita dor de alma, mas a doença do paciente não. Quando ele chega a mim não tem mais cura, não tem mais possibilidade de controle. Então encaro muitos preconceitos, principalmente, por conta de trazer à tona a consciência de que os médicos não estão preparados para este momento. Isto traz desconforto a todos os envolvidos, mas eu sei que esse é o meu papel. É anti-ético não oferecer cuidados paliativos a um paciente, por isso temos de aprender o que significa cuidados paliativos e saber oferecer, não oferecer cuidados paliativos como cuidados inconsistentes ou que significam desistência. Esta luta traz essas barreiras, as pessoas não querem mudar, não querem sair de uma zona de conforto e essa provocação faz com que tenha de enfrentar esses preconceitos.
Acha que a medicina sabe acompanhar os que estão a morrer? Respeita-os como devia respeitar?
Não, a medicina não está preparada para cuidar das pessoas até o seu último momento de vida e a medicina não respeita essas pessoas. A grande maioria não sabe. As pessoas, mesmo dentro dos cuidados paliativos, têm muita dificuldade de respeitar os pacientes porque se o paciente quiser ir para o UTI, se quiser fazer um procedimento agressivo, se quiser ser reanimado, tem muitas pessoas dentro do mundo dos cuidados paliativos que ficam muito ofendidas se o paciente decide ir por esse caminho, porque acham que sabem o que é melhor para o paciente. Mas o entendimento do respeito da autonomia vai para além do que o médico acha que é melhor para o paciente. Porque podemos saber o que é melhor mas, quem vai viver o que você acha que é melhor é o paciente e ele é que tem de decidir se está disposto a isso ou não.
Quais são os principais desafios que um médico dos cuidados paliativos enfrenta?
O autocuidado acho que é o principal. Como nós cuidamos de pessoas numa fase muito delicada, muito importante, muito intensa temos a tendência de nos colocar na função de cuidador 24 horas por dia, sete dias por semana, porque para nós, o que essas pessoas estão a passar é muito mais importante que a necessidade de dormir, de descansar, de ler, de ir ao cinema, de estar com amigos, com a família. Achamos que o problema pelo qual o paciente está a passar é tão grave que tudo o resto fica pequeno, mas quando juntamos muitas coisas pequenas e fingimos que elas não existem, ocupam um espaço de abandono imenso dentro de nós e esse espaço de abandono dói. Se abandonarmos a nossa saúde, abandonarmos a nossa família, abandonarmos nossa espiritualidade, esse espaço abandonado vai gritar e chamar a atenção para um lugar que ele não gostaria de estar que é o lugar de quem não consegue ajudar, ou seja, um esgotamento profissional. A questão do burnout, da fadiga, da apatia são situações que são pouco cuidadas no meio dos cuidados paliativos entre os profissionais, mas absolutamente prioritárias. É preciso ter essa autoconsciência, em primeiro lugar, para oferecer o melhor ao paciente.
Não preciso de um processador nuclear para fazer aquilo que faço, mas preciso de ter condições humanas para fazer o que faço. Portanto, o investimento deve ser nas pessoas, nos profissionais que fazem esse cuidado
Perante o seu vasto conhecimento na área, qual o país que tem melhores cuidados paliativos? E como acha que está Portugal quanto a este assunto?
Nas avaliações mundiais que temos, sobre o desempenho de cada país em relação a cuidados em fim de vida, a Inglaterra está em primeiro lugar. Portugal tem um processo muito bom, incrível até, existe uma potência muito relevante, um acesso muito melhor do que no Brasil. Quando falamos com as pessoas que precisaram e não receberam a resposta é a mesma. É muito triste que as pessoas precisem e não recebam e Portugal está à frente do Brasil em relação a isto. Contudo, quando estive em Portugal, conversei com vários profissionais e reparei que o número de especialistas dentro de cada equipa, de profissionais de outras áreas que são importantes nos cuidados paliativos, como por exemplo dentistas, tem mais relevância no Brasil. A forma como aprendemos e praticamos os cuidados paliativos depende muito da nossa cultura. Então não tem melhor ou pior.
Acha que é necessário mais investimento nos cuidados paliativos?
Não tenho a menor dúvida! Os cuidados paliativos não são uma coisa boa ou ruim. É necessário! É que como água, ninguém avalia a vantagem de ter ou não ter água porque é óbvio que tem de ter. A minha reação quando me perguntam se acho que deve existir cuidados paliativos é rir. É óbvio que sim! O investimento mais necessário é nas pessoas que integram os cuidados paliativos. Quanto menor a necessidade de recursos tecnológicos maior a necessidade humana do cuidado. A complexidade humana é inversamente proporcional à complexidade de recursos. Isso faz com que esses profissionais precisem que esse reconhecimento aconteça para serem valorizados. Não preciso de um processador nuclear para fazer aquilo que faço, mas preciso de ter condições humanas para fazer o que faço. Portanto, o investimento deve ser nas pessoas, nos profissionais que fazem esse cuidado. Além disso, deve-se investir na educação. Na educação da sociedade, dos profissionais de saúde, do Governo, do Serviço de Assistência Médica Privada, porque nós não mudamos o mundo através da força, mudamos o mundo através da educação, da consciência do processo.
O que é que a Ana pensa da eutanásia? E da kalotanásia? Explique-nos qual a diferença entre kalotanásia, eutanásia, ortotanásia e suicídio assistido.
A eutanásia é a morte boa. É essa a tradução da palavra. É o ato médico de matar um paciente em sofrimento, decorrente de uma doença incurável. O paciente diz que não quer viver isso, que prefere morrer a viver este processo, essa doença. E quando diz isso, não pode estar deprimido, tem de estar lúcido e orientado em condições de ato da vida civil. E aí ele assina um documento e marca o dia em que vai para uma instituição para receber uma dose mortal de um combinado de medicações e morre. O suicídio assistido é quando o paciente quer a mesma coisa. Assina os documentos, não está deprimido, está lúcido, orientado e capaz de atos da vida civil e pede o suicídio assistido, onde o médico prescreve uma medicação letal de medicamentos, o paciente compra e toma quando quiser. A ortotanásia é a morte correta. É o curso natural da doença, sem fazer nenhum tipo de intervenção para prolongar o sofrimento decorrente daquele processo. Acontece muito nos cuidados paliativos, porque reconhecemos que a morte acontece, que é um fato. Não lutamos contra ela, trabalhamos a favor da vida até que a morte chegue. A kalotanásia é uma expressão que se traduz como a morte bela. É aquela que merece estar na sua história.
Tive um paciente que ficou comigo nos cuidados paliativos por pouco tempo, fui chamada bem tarde e ele entrou num processo de grande sofrimento, onde a indicação da sedação paliativa era indiscutível. Ele foi sedado, aceitou o procedimento, assim como a família, despediu-se e adormeceu. Ele estava num processo ativo de morte, claramente em fase final, não escutávamos pressão, não tinha como ter frequência cardíaca, não detetava a oxigenação dele, apenas mantinha uma frequência respiratória bem baixinha de 4/5 movimentos por minuto (o normal seria de 16 a 20 movimentos por minuto) e não morria. Os dias foram passando e não percebíamos porque é que a morte não chegava. Não estava a ser feito nada para prolongar esse processo, estávamos a respeitar o curso natural da história dele, mantendo-o apenas adormecido. Até que, no dia em que ele morreu, cheguei para atestar óbito e a mulher, muito emocionada, contou-me: 'Hoje foi o dia em que o nosso filho morreu, há dois anos'. O pai ter morrido no mesmo dia que o filho é algo considerado muito sagrado na história da família. Tão sagrado que chega a ser belo. Isso é a kalotanásia.
As pessoas só se dão conta que o tempo passa rápido quando percebem que estão atrasadas. Acontece quando as pessoas estão com uma doença grave e incurável. Só nessa altura é que damos conta que perdemos tempo, que nos distraímos, que não estávamos presentes na nossa própria vida e queremos correr
Já quanto aos pacientes, porque é que só no leito da morte é que as pessoas começam a colocar a vida em retrospetiva? Acha que só nessa altura é que temos noção de que o tempo passa rápido de mais? Ou pelo contrário, por sabermos que a vida é breve, andamos sempre a 'correr' e esquecemo-nos de aproveitar a vida?
As pessoas só se dão conta que o tempo passa rápido quando percebem que estão atrasadas. Isso acontece com todo o mundo, em qualquer situação, nem precisa estar a morrer. Acontece quando as pessoas estão com uma doença grave e incurável. Só nessa altura é que damos conta que perdemos tempo, que nos distraímos da própria vida, que não estávamos presentes na nossa própria vida e queremos correr. Só que, quando sabemos que estamos atrasados, temos 10 minutos e não temos nenhuma dor conseguimos arranjar-nos nesse tempo. Já a sentir todo o tipo de desconforto possível, a fazer quimioterapia, depois de ter feito uma cirurgia, ter uma doença limitante isso é impossível. É aí que reparamos que estamos atrasados para viver, só que, nessa altura, já não temos físico para viver e isso é terrível, é muito difícil, muito desafiador. Se déssemos conta que a vida termina, que não sabemos quanto tempo temos, que pode ser pouco, que não temos controlo sobre o futuro, que só temos desejos, perspetivas, mas controlo não temos. Quando temos consciência que a nossa vida termina, começamos a viver de uma maneira mais consciente. Não desperdiçamos tempo.
E porque é que acha que desperdiçamos tanto tempo com banalidades, em vez de dar valor às coisas mais essenciais, a nós próprios?
Porque as banalidades são fáceis de lidar. Quando prestamos atenção a nós mesmos, tendemos a ver que há algumas coisas importantes que temos de por em dia. Cuidados com o corpo, com a saúde, mudanças de hábitos, com a saúde das relações, familiares, espiritual. Tudo isto implica trabalho, muito esforço e só fazemos esse sacrifício para aquilo que não vale a pena, como por exemplo, por bens materiais. Mas no dia que morrermos, não vamos levar nada daquilo que temos. Podemos ter o closet cheio de coisas lindas, ter muitas joias, ter um lugar incrível, um apartamento surreal mas, no dia que morrermos vamos apenas com a roupa que temos no corpo. É assim que vamos para o caixão. Só. É o momento da vida em que entendes que tu és só tu. Que não és o que tens. E nós sofremos muito, trabalhamos muito para ter esses tais bens. Eles são bons, desde que te proporcionem uma experiência de vida muito boa e desde que, se perderes amanhã, não vais precisar deles. Devemos ter apenas coisas das quais podemos abrir mão. Tudo o que tem e não quer abrir mão, é uma banalidade, é um tempo desnecessário que está a investir num desperdício.
Acha que a maioria das pessoas sobrevive em vez de viver?
Não sei se tenho possibilidade de falar sobre a experiência de cada um, no que se trata do espaço interno. É um segredo de cada um. Considerar a vida um naufrágio e ter de sobreviver é triste, mas pode ser a realidade de muita gente. O que fazemos para sobreviver pode fazer toda a diferença. O mais difícil não é sobreviver, o mais difícil é adiar o ritmo, adiar a felicidade, a perceção de que a vida vale a pena viver. Quando só pensamos na reforma, em viagens, na vida que queremos quando casarmos, quando tivermos filhos, quando os filhos se formarem. Esse processo todo, enquanto eles estão perto de nós já é vida, já tem valor e se não abrirmos os olhos, não prestarmos atenção, colocamos os olhos num futuro inalcançável e aí não dá nem para sobreviver quando já estamos mortos.
Como é que podemos mudar essa mentalidade? É que é difícil sair da rotina, deixar o ciclo vicioso de sobreviver, ou seja, dormir, comer, trabalhar. Como é que se muda isso?
Não sei se tem uma fórmula para mudar, temos de querer, essa é a primeira coisa. Recebo centenas de feedbacks de pessoas que leram o livro e mudaram. É como se tirassem o muro, do qual estamos atrás, tentando ver a vida e não vemos porque estamos atrás de um poste. Não vemos o que está a acontecer e aí decidimos sair desse lugar. Às vezes estamos atrás do muro porque é um lugar de conforto, porque o que não se vê não tem de ser mudado. Mas chega uma hora em que vemos, em que interagimos com a realidade e aí somos intimados, obrigados, ouve-se um grito da vida a dizer ‘oh se liga’. A rotina é um lugar de conforto, mas precisámos sair dessa inércia. A base do processo é instinto, comemos quando temos fome, bebemos quando temos sede, dormimos quando temos sono e tudo isso diz respeito a uma rotina de ciclos muito básicos, mas devíamos incluir nessas necessidades a alegria, a paciência, a tolerância, o silêncio. Quando a vontade de silêncio for tão necessária quanto a fome, aí está num espaço bem mais lúcido de ver a vida.
Podemos ter o closet cheio de coisas lindas, ter muitas joias, ter um lugar incrível, um apartamento surreal mas, no dia que morrermos vamos apenas com a roupa que temos no corpo. É assim que vamos para o caixão.
No livro, diz que nos temos de preparar para perder… não só a vida, mas empregos, relações, sonhos. Contudo, somos uma sociedade numa busca constante de conquista. Será por isso que estamos sempre tão insatisfeitos e passamos a vida numa constante procura?
É essa cultura nossa que precisa ser transformada. E a cultura transforma-se quando os indivíduos que formam. Então não é impossível. Mudamos o microcosmos, mudamos o nosso pequeno mundo de interação e quando mudamos a visão de mundo com esse olhar de quem sabe que acaba, tudo o que começarmos na nossa vida com essa consciência vai fazer com que aproveitemos muito mais. Se começarmos uma relação sabendo que ela vai terminar, vamos aproveitar muito mais. Não vamos deixar para amanhã para dizer ‘amo-te’, não vamos deixar para amanhã a possibilidade de nos conectarmos com a pessoa, para estar com ela, para sorrir, não desperdiçamos tempo com discussões, porque sabemos que vai acabar e o que queremos que aquela relação traga é uma vida mais gostosa de viver porque tem uma parceria nessa vida. E não precisa ser só relações de amor, carnais ou de sexo, falo de relações afetivas que trazem amor para o seu conteúdo, de amizade, amor pelos filhos, etc.
Porque é que diz que o mais difícil da morte é morrer?
Porque a morte é a morte, é o último suspiro. O último suspiro não é difícil de dar, mas agora até que o último suspiro aconteça você tem o morrer e o morrer é trabalhoso e nos cuidados paliativos a nos ajudamos as pessoas a transformar o morrer em viver. Não passam a vida a morrer, passam a vida a viver e vivem até que a morte chegue e isso é muito mais fácil.
Quais são os maiores arrependimentos quando a morte se aproxima?
Uma enfermeira australiana que escreveu um livro chamado ‘Antes de partir’ diz que os arrependimentos mais frequentes das pessoas no momento em que elas sabem que vão morrer são cinco. O primeiro é ‘eu gostaria de ter feito escolhas para mim, compatíveis com aquilo que eu queria fazer e não para agradar os outros’. O segundo arrependimento ‘eu gostaria de ter demonstrado mais afeto’. Escondemos a nossa emoção porque achamos que isso é fraqueza. Só que isso não é fraqueza, emoção é fortaleza quando sabemos lidar com ela. As pessoas não querem aprender a lidar com ela, querem abafá-la e quando estamos a morrer vemos que foi um desperdício de experiência humana maravilhosa. O terceiro arrependimento é ‘gostaria de ter trabalhado menos’ e isso acontece, especialmente, com pessoas que têm um trabalho que não faz o menor sentido com a vida delas. O quarto arrependimento é ‘gostaria de ter ficado mais tempo com os meus amigos’, que é algo que nos faz conectar com a nossa essência, quando estamos com os nossos amigos, somos quem somos e é gostoso poder experimentar a nossa essência, a nossa verdade. O último arrependimento é ‘eu gostaria de me ter feito mais feliz’. Acho que este é quase um resumo de todos os outros arrependimentos.
Enquanto médica que está habituada a lidar com a morte, quais são os casos mais chocantes? Aqueles doentes que passam anos, quiçá décadas, nos cuidados paliativos, ou aqueles utentes que nem têm tempo para se despedir?
Não dá para separar, a parte mais bonita dos cuidados paliativos é que cada um é um. Há pessoas que passaram a vida monstrando-se lúcidas, conscientes, praticantes do bem estar, da compaixão pelos próximos. Passaram a vida inteira a sentirem-se nobres, incríveis por fazerem isso, mas quando chega à hora da morte, descobrem que era só fachada. Não conseguiram entrar com profundidade no sentimento, na própria emoção, com a essência. Todo esse processo que falavam era da boca para fora. Também tive oportunidade de cuidar de pessoas atrozes, super difíceis, cruéis com elas mesmas, incompreensivas com o mundo, difíceis de lidar e que tiveram um fim de vida surrealmente maravilhoso e leve. Então ainda não descobri a fórmula. Mas acho que precisamos trilhar o nosso caminho com base na verdade e no amor. No amor incondicional, ou seja, vou fazer por ti o que precisas que eu faça e não vou ficar à espera que ligues para agradecer ou que me pagues com algum ato bom, de reconhecimento. Esse ato de oferecer a bondade, independente da resposta e da capacidade do outro de receber o que estamos a oferecer parece-me o caminho mais livre, mais fácil, mas bonito de terminar a vida. Os últimos 10 minutos da vida de uma pessoa ou últimos 10 anos para mim não tem diferença. Têm a mesma intensidade, a mesma entrega. É claro que se estiver 10 anos tenho muitas mais coisas para fazer, tenho mais tempo para fazer essas coisas, mas não são nem mais nem menos importantes das coisas que eu tenho para fazer nas últimas horas de vida do paciente.
A incidência de pessoas que sofrem muito no final da vida é bem maior entre os mais abastados. Porque têm a impressão que o facto de terem recursos têm a possibilidade de adiar a morte, mas têm é a possibilidade de aumentar o sofrimento
Já trabalhou num hospital de classe média/alta e dirigiu um para pessoas sem recursos e até sem-abrigo. Há alguma diferença entre ricos e pobres no leito da morte? Ou nesse momento somos todos iguais? Enfrentamos esse momento da mesma forma?
A incidência de pessoas que sofrem muito no final da vida é bem maior entre os mais abastados. Porque têm a impressão que o facto de terem recursos têm a possibilidade de adiar a morte, mas têm é a possibilidade de aumentar o sofrimento. No hospital público, não existe aquele nome chique da solidão que é a privacidade. No hospital público compartilhamos e temos a oportunidade de ajudar as pessoas mesmo quando estamos mal, podemos conversar com quem está no nosso lado, temos a palavra e a presença. Já no hospital de ricos, muitas vezes há uma família muito rica, mas que não tem estrutura emocional para acompanhar o familiar, então compram o tempo de alguém, pagam a um cuidador para ficar lá. Não é que eles não tenham condição física para o fazer, não têm é condição emocional, afetiva, estrutura para poder acompanhar uma pessoa que está nessa condição. É muito raro ver uma filha muito rica de um paciente muito rico querer aprender a mudar fralda do pai e dar banho ao pai. Sei que entre as pessoas que têm menos recursos não há escolha, talvez se pudessem escolher não quisessem aprender a trocar a fralda do pai nem da mãe, mas não têm escolha e para quem não tem escolha é mais fácil lidar com a realidade do que aquelas pessoas que pensam que o que está a acontecer é um erro, é uma falha. As pessoas com recursos podem escolher o caminho errado e depois sentem-se culpadas ou culpam alguém por isso. Além disso, os pacientes com menos recursos foram tão mal tratados na vida inteira, pelo Governo, por outras pessoas, pelas condições sociais em que viveu que, quando recebe cuidados paliativos, oferecemos-lhe um sorriso e ele recebe esse sorriso como se fosse a coisa ais preciosa do mundo. É muito, muito especial, a forma como as pessoas com menos recursos recebem os nossos cuidados. Recebem com muita generosidade. É muito bonito quando temos generosidade no dar, mas é desafiador ter generosidade no receber, expressar generosidade no receber e as pessoas mais sofridas são mais generosas ao receber os nossos cuidados.
E porque é que acha que as pessoas têm medo de morrer?
Porque são incapazes de viver direito! E como não se sentem capazes de viver direito, têm medo de morrer porque querem mais uma oportunidade de aprender a viver então querem adiar a morte. Não são capazes de perceber que devem viver uma vida que vale a pena tanto que podem morrer por ela. Quem tem medo de morrer, em geral, tem uma vida que não está a valer a pena morrer, não está a viver plenamente. Está a viver com medo de perder e viver com medo de perder ocupa espaço no viver. Eu costumo convidar as pessoas que têm medo de morrer a ter respeito pela morte, porque as coisas que respeitamos, prestamos atenção, ficamos atentos, aprendemos, aproximamo-nos e ouvimos. Acho que é melhor as pessoas terem respeito pela morte do que medo.
Há algum (ou alguns) caso que a tenha marcado mais?
Todos me marcam. Todos me transformam. O próximo livro vai falar dessas histórias. Uma das histórias mais fortes foi com um paciente de 44 anos que tinha um cancro de intestinos avançado, era testemunha de Jeová e não aceitava transfusão de sangue. Quando este paciente teve o diagnóstico, já estava numa fase muito avançada. Chegou ao hospital com uma hemoglobina muito baixa, num quadro de anemia severa, com muito cansaço, muita fadiga e muita dor porque praticamente todas as vértebras da coluna dele tinham metástases e a dor dele era muito intensa. Nós oferecemos cuidados paliativos, tratamos a dor, tratamos a fadiga, tratamos da família e ele teve uma melhora muito significativa em poucos dias. Certo dia, ele chamou-me e disse: ‘Eu sei que estou nos cuidados paliativos e que o meu cancro não tem tratamento, mas eu vim para cá para morrer e eu estou cada dia melhor e não me deixa de passar pela minha cabeça que pode ter acontecido um milagre, pode fazer exames aqui neste lugar?’. Lembro-me que quando ele me pediu isso eu disse-lhe: ‘Eu também não posso deixar de confessar que também acho que pode ter acontecido um milagre, porque você está realmente muito melhor’.
Quando ele chegou no hospital, a hemoglobina dele era de 6, o normal é entre 12 e 14, e o resultado do novo hemograma deu 3.2. Nunca tinha visto na minha vida médica alguém com este nível de hemoglobina vivo, conversando, comendo, sorrindo… E aí eu sentei na cadeira ao lado da cadeira dele e contei o resultado do exame. Ele apenas me disse: ‘Está tudo bem doutora, era o que nós sabíamos que ia acontecer” e deu-me um sorriso muito verdadeiro. Fiquei muito comovida, estava muito triste com o resultado daquele exame e ele ali a sorrir. Então perguntei: ‘Como se faz para chegar aí do jeito que você é?’. E ele contou que, quando era jovem, o pai revelou que o livro da vida tinha duas páginas. Uma para ler quando desse tudo errado, onde estava escrito ‘tudo isso vai passar’ e outra para ler sempre que a vida estivesse muito boa, sempre que acontecesse algo que lhe desse felicidade. Nessa segunda página estava escrito: ‘Isso também vai passar’. E esse homem viveu a vida toda com base nesse manual de instruções. Como sabia que os momentos mais difíceis iam passar, não sofreu tanto, e como sabia que os momentos mais felizes que viveu também iam passar, aproveitou-os muito.
E como é que a Ana lida com tantas mortes? Com tanto sofrimento? A nível emocional não deve ser fácil…
Pratico meditação há mais de 20 anos e essa prática traz a possibilidade de estar presente sem me destruir com os pensamentos e acontecimentos que me rodeiam. A meditação trouxe-me a capacidade de ir para o olho do furacão e saber permanecer lá a ajudar as pessoas sem entrar no furacão. A nível emocional eu faço terapia, não contínua mas por temporadas. Faço um, dois anos, paro um ano, depois volto. Depende dos ciclos que eu estou a viver na minha vida, ciclos pessoais, ciclos profissionais, ciclos internos, ciclos externos, eu busco ajuda e é muito bom saber que existem pessoas que nos podem ajudar e elas são muito boas nisso.
Acho que todo o mundo deveria ter a sua própria morte como a sua melhor amiga, porque ela vai embora contigo, tudo passa menos a morte, a morte fica com contigo até ao dia
E a Ana, tem medo da sua própria morte?
Não tenho medo da minha morte não, porque a morte é a minha melhor amiga. A cada dia que tenho uma crise, algum problema, alguma dificuldade é ela que me aconselha, é ela que me diz se vale ou não vale a pena perder uma noite de sono por aquilo que eu estou stressada. E se acabo sucumbido, na possibilidade de me stressar, a minha morte não me abandona. Acho que todos nós deveríamos ter a sua própria morte como a sua melhor amiga, porque ela vai embora contigo, tudo passa menos a morte, a morte fica com contigo até ao dia. Para mim é uma honra ter companhia, ter essa companhia de algo muito lúcido que é a morte, algo muito consciente, muito sensato, muito poderoso, compassivo, forte e que limpa meus olhos para que eu possa ver a vida de uma forma mais clara e verdadeira.