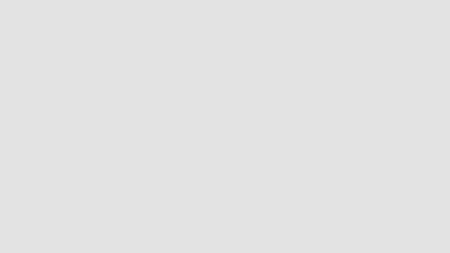Quando pensamos em Gilmário Vemba, é humor que vem à cabeça, não fosse ele um dos mais conhecidos humoristas angolanos. Mas conversar com Gilmário mostra-nos mais do que isso. Aliás, como diz o próprio, será o lado menos divertido que vai conhecer nesta entrevista.
Connosco, partilhou histórias da sua infância e adolescência, e as quais dão hoje mote ao espetáculo que apresenta no nosso país - ‘Imortal’. Uma história que reflete a realidade de quem nasceu e cresceu em Angola, numa altura em que o país era marcado por guerras e muita pobreza. Uma realidade encarada nesta abordagem de um ponto de vista mais leve, mas que Gilmário está ciente de que influenciou a forma como o país progrediu e o modo como os outros países olham para ele.
Sem receios, o humorista assume que se olha de forma diferente para os angolanos na Europa. Reconhece também que a corrupção continua a ser um dos principais problemas em Angola, embora acredite que João Lourenço não tem outra opção que não a de marcar a diferença na luta contra a mesma.
Gilmário esteve em Portugal no dia 2 de abril, onde estreou a peça o 'Imortal'. Estará de regresso ao Norte do país em maio e deixa um convite aos portugueses para que não percam a oportunidade de conhecer o seu trabalho.
Em Angola, todos os que nasceram em 85 já nasceram à beira da morte
Apresenta-se em Portugal com o espetáculo ‘Imortal’. Com o que podem contar os portugueses?
‘Imortal’ são histórias do Gilmário Vemba, que acabam por representar a história de um país. Em Angola, todos os que nasceram em 85 já nasceram à beira da morte. Ter conseguido chegar aos 33 anos e conseguir observar uma mudança no país, para mim, passa uma ideia de imortalidade porque as hipóteses de não chegar até aqui eram muitas.
Cresci num bairro que era um dos bairros mais perigosos da cidade de Luanda, ou seja o país já estava em guerra, mas havia um bairro que ainda era pior, mais perigoso. Com toda as dificuldades que o país tinha na altura, todos esses angolanos passaram por uma provação, porque nascemos num ano em que havia guerra, a taxa de mortalidade infantil era elevada, havia um problema de desnutrição, extrema pobreza… Todos os que conseguiram sobreviver a tudo isto ganham esta sensação de imortalidade, de que não vai morrer.
Se não morreu até agora, já não vai acontecer.
Sim, estou safo. Porque quando nasci a esperança média de vida era de 35 anos, depois passou aos 40, agora já está nos 65.
Perante esse cenário, nunca pensou em sair do país?
Por mais estranho que pareça, inserido numa comunidade onde todos os pais almejavam uma oportunidade de mandar os filhos para fora, eu nunca me vi na possibilidade de sair de Angola. Sempre senti que tinha uma certa responsabilidade, já desde miúdo, de fazer alguma coisa pelo meu país. O meu pensamento era “Não vou fugir, eu nasci aqui, fui posto aqui por alguma razão, então tenho de estar aqui”. Quero estar aqui e contribuir fazer força para ver até onde é que podemos ir e ser útil para a resolução dos nossos problemas”. Nunca pensei em emigrar.
O facto de ter tido uma formação em Relações Internacionais e Análise Política tem precisamente a ver com esse desejo de querer contribuir para mudar o rumo do seu país?
Sim. Fui muito influenciado pelo meu colega Costa [Daniel Vilela, d’ Os Tuneza] que sempre debateu muito sobre política e, como sou o mais novo do grupo, gostava muito de ver a forma como abordavam estes assuntos.
O humor tem essa particularidade de ser a arte que mais faz crítica política. E nós não fazemos isso porque crescemos num país em que fomos educados a não falar de política, por causa do regime que o país tinha, um regime socialista único em que não se debatia. Os nossos avós foram educados a não debater política, os nossos pais também e nós não podíamos fugir à regra, mas havia a necessidade de debater e hoje, felizmente, isso está mais aberto. Os jovens estão mais inseridos na política e eu também fui arrastado para isso e comecei a gostar da ideia de desenvolver e compreender como funcionava a política internacional, porque nós como países de terceiro mundo acabamos por sofrer muita influência, quase somos dominados e guiados pelas grandes potências e é preciso compreender isso.
Diz que 'Imortal' é também uma viagem pelos momentos mais importantes da sua vida. Que momentos são esses que quer partilhar com o público português?
De experiência de morte. Primeiro pela experiência da morte da minha mãe que teve de criar dois filhos na casa da sogra, o que é complicado. E depois pela parte de que sou o filho da minha mãe que mais vezes conseguiu não morrer, e nem estou a falar da guerra mas de oportunidade que a vida me deu para morrer: atropelamentos, envenenamento, intoxicação com álcool, disparos… Estão a ver como se parece já com uma cena tipo cena de terror?
Agora já não é tanto assim mas, na altura que eu nasci e no meu tempo de adolescência, sobreviver era a questão. A ideia da morte era muito próximaEnvenenamento propositado ou um acidente?
Não, tudo acidentes. Bebi petróleo que me foi dado pelo meu avô, porque o meu avô chegou a casa já meio embriagado e fui pedir-lhe água. E naquela altura, por causa do problema da energia, era normal ter-se petróleo em casa, por causa dos candeeiros, para a cozinha… E ele tinha sempre um garrafão de petróleo em casa. E os garrafões de petróleo eram idênticos aos da água. Então o meu avô pegou no garrafão errado, serviu-me petróleo e eu bebi mas com a ideia de que aquela água era estranha. E fui reclamar a uma tia minha e ela foi ver e eu tinha ingerido uma boa quantidade de petróleo. Mas, graças a Deus, não morri.
Perante todas essas histórias que nos conta, sobreviver é por si só um objetivo de vida para quem vive em Angola?
Agora já não é tanto assim mas, na altura que eu nasci e no meu tempo de adolescência, sobreviver era a questão. A ideia da morte era muito próxima. Temos um país que está em guerra, está fechado para o mundo, temos as oportunidades todas reduzidas, pelo que chegar a uma certa idade é uma esperança. Ainda por cima, quando completo os meus 15 anos, havia uma teoria, lançada pela religião - e os países muito pobres têm a mania de entregar o seu destino à religião -, a teoria das Testemunhas de Jeová, de que o mundo ia acabar no ano 2000. Isso aconteceu dois anos antes de eu fazer 15 anos e eu fui-me mentalizando de que ia morrer aos 15 anos e então comecei a adotar uma postura mais adulta e quis aproveitar aqueles dois anos para fazer tudo, até sexo, para poder partir e ter experimentado o máximo de coisas possível.
Quando se passa por esse tipo de experiências onde é que se vai buscar o sentido de humor para brincar com tudo isso?
O nosso povo é muito alegre. Não sei se é da temperatura, mas ali encontras pessoas a dançar e nem sequer há musica. Nós somos mesmo muito alegres, temos um espírito festivo. E a minha família é uma família muito engraçada, que até na hora de contar os problemas mais macabros sai com uma pitada de humor. Há sempre um certo sarcasmo.
Há pouco tempo o meu avô estava doente e estava constantemente a despedir-se a dizer que ia morrer e que tinha chegado o seu fim. E a minha mãe contava-me isto com a maior naturalidade, embora aquilo por dentro a incomodasse. Vinha sempre com uma leveza, o que não significa que ela não estivesse triste ou incomodada. E boa parte do angolano tem esse espírito.
É a ideia de que rir é o melhor remédio para os problemas?
Sim. Uma sociedade que consegue rir dos seus próprios problemas é uma sociedade saudável. Aliás, nós somos saudáveis quando conseguimos olhar para os nossos problemas de uma maneira engraçada porque eles vão acabar por se tornar engraçados. É só uma questão de tempo.
Tendo escapado tantas vezes à morte já pensou alguma vez como é que vai acabar mesmo por morrer?
Já pensei como é que eu não quero morrer. Se a vida me oferecesse uma oportunidade para escolher eu pedia um tiro na testa, sem sentir, e acordava no céu. Nunca ia aceitar morrer à facada porque acho que dói muito, nem queimado porque teria de gritar e correr. Se tiver de morrer não me obriguem a correr porque não quero morrer cansado. Não sei o que há do outro lado, não sei se vou precisar de energia ou não, por isso acho que essa seria a minha escolha de morte.
O angolano sempre acreditou que era uma mudança impossível, que José Eduardo dos Santos nunca ia sair do poder. Que ele só ia sair de lá morto. Isso foi algo alimentado durante muito tempoEm 2017 muda a liderança do país. É um novo período de esperança para o povo angolano?
De muita esperança porque o angolano sempre acreditou que era uma mudança impossível, que José Eduardo dos Santos nunca ia sair do poder. Que ele só ia sair de lá morto. Isso foi algo alimentado durante muito tempo. Quando há essa mudança de liderança, embora o partido continue a ser o mesmo, acontece uma quebra porque José Eduardo tinha uma força e uma imponência que as pessoas, de certa forma, temiam e tinham medo de falar em política. Eu nasci com José Eduardo dos Santos [no poder] e tudo o que conheci na minha vida foi com ele. Não havia esperança nenhuma e havia a teoria de que se José Eduardo saísse do poder ia haver um colapso, ia haver guerra e caça às bruxas. De alguma forma os políticos do MPLA tentavam alimentar este medo nas pessoas, de que José Eduardo dos Santos era insubstituível e eu acredito que ele já queria largar o poder há muito tempo, mas ele era uma imagem muito forte para o partido. E a partir do momento em que ele sai, o país começa a olhar para as coisas de outra maneira, como se afinal fosse possível viver sem ele. Para mim, começa um novo ciclo democrático no país.
Acho que o João Lourenço já não vai conseguir ter a permanência que teve José Eduardo dos Santos - fará quatro ou oito anos de mandato – mas já não terá a capacidade de alterar a constituição para ter benefícios em tempos de eleições para ficar mais tempo. E não é só Angola que observa todo este processo. Toda a África começa a experimentar essa questão da mudança, da cedência, de que o poder não está em absoluto num partido ou numa pessoa.
E que mudanças já são possíveis verificar no país?
A primeira mudança é que agora passamos a ser mais participativos na vida política do país, que para mim é uma mudança muito importante. Já não são apenas os políticos a encontrar soluções para o desenvolvimento do país. Há pessoas singulares, que através das plataformas digitais ou da imprensa tradicional, vão dando inputs, vão falando de forma cada vez mais aberta daquilo que está certo, do que não está, o que pode mudar e o que não pode. Para mim, é a mudança mais importante porque se tens um país em que os governantes é que dizem o que é ou não é, sem a população poder intervir, nem que seja só através da opinião, vamos continuar a andar às cegas.
Acabou o clima de ditadura e censura de que falava há pouco?
Acabou. Acabou embora ainda haja algumas pessoas que ainda se alimentam disso. Durante muito tempo essas pessoas tiveram na cabeça a ideia de que ‘vou ser censurado e de que não posso falar’ e isso ainda demora um pouco a passar. Mas o país tem novos jovens que já não foram tão influenciados como nós, com a política do não se fala sobre política, e isso permite que haja maior abertura.
João Lourenço tem sido uma espécie de rosto da luta contra a corrupção. Este era um dos maiores problemas do país…
E continua a ser.
Mas ele pode efetivamente fazer alguma diferença nesta luta?
Ele tem de fazer alguma diferença. Isso é o maior trunfo de João Lourenço. Se se quiser manter como presidente, se quiser recuperar a esperança no partido. Não tem outra saída. Ele tem de representar a mudança. Não só para ele mas para o próprio MPLA. O único caminho é fazer essa luta titânica, quase que invasiva, para acabar não digo, mas diminuir consideravelmente a corrupção no país. Tem de haver maior transparência, tanto que nós já vemos que os políticos agora andam mais comedidos, já não há aquela ideia de político como uma pessoa intocável, como uma pessoa que não pode ser questionada. Hoje os políticos são questionados, seja os governadores, os administradores, os ministros, todos são questionados sobre o seu trabalho e mesmo aqueles que operavam no tempo do José Eduardo são obrigados a prestar contas.
Hoje já vemos mais pessoas a ir em frente ao palácio governamental, vão à frente dos ministérios e questionam, e fazem grande textos nas redes sociais que viralizam porque o crescimento digital tem ajudado muito nesse aspeto. Hoje, além da imprensa tradicional, temos os fiscalizadores que acabam por estar no panorama digital e acabam por desmentir muita coisa que a imprensa tradicional diz. A imprensa tradicional, para não perder a credibilidade, agora é obrigada a passar a mensagem tal qual como ela é. Ou não noticia ou tem de dizer a verdade, ou seja, já não pode dizer que apenas morreram três crianças, se nós sabemos que afinal morreram 30, porque alguém nas redes sociais, e com provas, vai mostrar que a notícia não está em conformidade.
O português olha para o angolano como alguém que precisa de crescer e que não sabe nada. Eu sinto esse olhar constantemente. Essa ideia de que somos mal educadosJoão Lourenço esteve recentemente em Portugal, onde se reuniu com o presidente Marcelo. Como analisa essa relação? Poderá também haver alguma colaboração entre os dois países nesse aspeto?
O nosso tio ‘Celito’ como é carinhosamente chamado por nós. Nós não conseguimos e nem vamos conseguir nunca quebrar a relação entre os dois países e realmente é preciso que tanto um presidente como o outro encontrem políticas de aproximação porque nós debatemos várias coisas: conflitos raciais, económicos, e é preciso que se encontre um meio termo que possa melhorar as relações dos dois países. Nós temos uma dependência um do outro muito grande.
Nós pelo know how, por causa da língua, pois se quisermos crescer, é mais fácil procurar especialistas que sejam portugueses porque nos facilita e muitos deles têm um domínio da nossa realidade, seja económica ou social, muito grande. E Portugal porque tem muitas empresas que operam em Angola e acabam por ter um grande peso na economia de Portugal.
Outra coisa muito importante é que é preciso fazer uma combinação de dados históricos para que os portugueses possam perceber muito mais daquilo que é Angola, de como tudo começou, porque há muita gente que não sabe e que nem tem sequer interesse em pesquisar para saber. Acho que seria muito importante que o cidadão português conhecesse de forma certa e profunda a realidade do angolano.
Mas sente algum estigma em relação a esse aspeto, por exemplo quando vem a Portugal?
Sinto, sinto que há um olhar muito diminuído. O português olha para o angolano como alguém que precisa de crescer e que não sabe nada. Eu sinto esse olhar constantemente. Essa ideia de que somos mal educados. Ainda ontem estava numa conversa agradável com um ‘cota’ português e ele disse-me: ‘Pelo menos vocês da nova geração já são mais educados’. Mas só a ideia de sermos mais educados, isso já não está certo. Tu só vais conseguir entender o ódio se conseguires mergulhar na realidade dele. Nós nascemos com um determinado atraso e não há um interesse por parte do português [em percebê-lo]. E claro que isto é bem desenhado a nível político porque a determinada altura Portugal só conseguiria continuar em Angola se tivesse o apoio da própria população. E para ter esse apoio tens de dizer coisas que façam a população acreditar que vocês precisam de estar lá, precisam de civilizar aquela gente, mas na verdade não era esse o processo.
Em tempos, quando houve aquele problema no Bairro da Jamaica, fiz uma intervenção através da minha rede social, porque conheço muita gente que vive aqui e que sofre com o problema racial, embora seja um racismo meio camuflado, que é bem controlado. E depois há aquelas pessoas que realmente se relacionam muito bem com os africanos e angolanos e sentem-se um pouco mal, porque não se reveem nisto. Mas que existe, existe. E em debate alguém me disse, mas “lá estão vocês sempre a puxar o tema da escravatura, isso foi há 500 anos”. E não foi há 500 anos. O que aconteceu foi que Portugal esteve em Angola durante 500 anos e não há 500 anos. Foi em 1975 que Angola teve a independência. Até hoje são 44 anos. O meu avô e o meu pai ainda viveram na época da guerra colonial, então ainda há uma forte possibilidade de terem passado isso para mim.
Tens um povo que ficou parado durante muito tempo. Em 1961 começa o conflito armado entre Angola e Portugal, foram mais de quase 15 anos de conflito colonial em que havia guerra e depois de 1975 ate 2002 tens uma guerra civil, em que povo que está parado não está habituado a estudar, a trabalhar, por causa das condições que o país oferecia. E depois disso ainda temos 17 anos de paz mas em que a política não nos ajudava. Havia o processo ditatorial, que para nós não o parecia, mas quando vamos pesquisar os aspetos da ditadura começamos a ver semelhanças e a perceber que estávamos numa e nem sabíamos. Tens de conseguir olhar para isto, e entender todo este processo e pensar ‘Ah o Gilmário tem essa dificuldade porque ele passou esse trauma todo”.
O poder político tem tido influência nisso?
Tudo se despeja na questão dos nossos políticos, porque dizem ‘Ah os políticos em Angola é que lixaram aquilo tudo, roubaram dinheiro’ mas esses políticos também são vítimas de outros vícios, de um outro sistema. São os velhos que viveram no tempo colonial, viveram a guerra civil, foram educados por outras pessoas e dentro da arena da política internacional tudo funciona à base de interesses. Se eu olhar para si como melhor comunicadora do que eu, as suas opiniões têm uma maior influência sobre mim. Quem educou esses políticos foram outros, que lhes disseram como é que tinha de ser, porque os países relacionam-se através de interesses, e não há aqui um abraço irmão, a política não tem realmente coração. Política é estratégia. Ninguém anda aos abraços e beijinhos. Esses políticos sofreram isso. Também foram influenciados dessa forma. Culpá-los? Podiam ter feito frente, mas quem sabe …
Boa parte dos países em África que tenham registado crescimento não tiveram um rompimento com o seu colono. Tiveram acordos, como a África do Sul, e outros que entraram num acordo de cooperação. Não houve um clima de guerra de saída. Sentaram-se, conversaram, concordaram em partilhar o país. E aí tiveram crescimento, mas se vais para a África do Sul continuas a encontrar o estigma racial. Vou várias vezes lá e é difícil, é mais presente ainda do que em qualquer outra parte, parece um apartheid aceitável. É difícil ver negros a relacionarem-se com brancos. É raro. Continua a haver divisão , vás onde fores, se prestares atenção, e não é preciso muita. Às vezes parece que é uma fachada e a população é que sofre com o pisar dos grandes elefantes que estão nessa arena.
Enquanto eu olhar para um emigrante como um cancro no meu país, como alguém que veio para destruir, isso não me permite olhá-lo com uma boa atitude
Falava do caso do Bairro Jamaica, muito polémico em Portugal. É da opinião que existe um sentimento ‘racista’ da polícia para com a população de raça negra?
Existe e a melhor maneira de observar isso é, por exemplo, através da arte, que tem essa vantagem de ser o espelho da sociedade, da nossa realidade. Ouve as músicas, os poemas, vê as peças dos jovens emigrantes. O que é que eles dizem? O que contam? O que escrevem? Não pode ser algo à toa. Eles estão constantemente a escrever sobre racismo, brutalidade policial, falta de entendimento e de oportunidades. Enquanto eu olhar para um emigrante como um cancro no meu país, como alguém que veio para destruir, isso não me permite olhá-lo com uma boa atitude.
Venho para aqui e tenho de estar atento às regras porque sou um estrangeiro, não tenho a possibilidade de cometer erros, porque eu sei que se cometer um erro, e se aparecer um português, ele vai criticar-me. Há sempre essa reprovação. Posso estar num semáforo e estar com muita pressa e ver três portugueses a atravessar com o sinal vermelho para os peões, mas eu não vou fazê-lo porque se for eu a abordagem é sempre diferente.
Aqui, a partir do momento em que és negro olham para ti como pobre, assumidamente tu não tens possibilidades. Ou seja, a cor negra na Europa representa o pobreE esse sentimento também é vivido, da forma inversa, pelos portugueses que vivem em Angola?
Não, pelo contrário, o português que está em Angola é maioritariamente empresário. Contratado de high level para operar em grandes empresas. Ainda há aquele complexo de inferioridade entre branco e preto por causa da ideia da supremacia branca. Podem sofrer alguma coisa mas é mais na defensiva, na ideia de tentar marcar presença do que propriamente para inferiorização.
O que pode acontecer no nosso país, e porque vivemos num país com muita corrupção, é por exemplo um polícia mandar parar um português parar no trânsito e tentar sacar-lhe alguma gasosa, pedir um dinheiro. Aqui é o contrário. Aqui a partir do momento em que és negro olham para ti como pobre, assumidamente tu não tens possibilidades. Ou seja, a cor negra aqui na Europa representa o pobre. Por isso é que nós temos a ideia de que quando vimos para a Europa temos de vir nos nossos melhores carros, vir bem apresentados, tenho que estar de fato e gravata, sair de um Mercedes, com monte de joias, coisas caras, porque quando eu levantar a mão, e virem um iPhone, vão pensar: ‘Este é um africano a respeitar’. Mas é tudo uma encenação, uma defesa para passar a mensagem de que eu não sou pedinte, não sou pobre. Estou aqui de férias.
Ainda há dias, uma rapariga escreveu-me no Facebook a dizer que é a única preta na sua escola e que esta constantemente a sofrer de bullying dos colegas. É uma jovem de 17 anos que está super influenciável e a ouvir todos os dias aquilo ela começa a acreditar que é menos, que está a invadir o país alheio...
Mas muitos nasceram cá.
Sim, e o pior é isso. Nunca te sentes em casa. Mesmo que nasças naquele país nunca te vais sentir bem. E pode perguntar a vários jovens moçambicanos, cabo verdianos que já nasceram aqui. Eles não se sentem daqui. Quem até já trabalha aqui, e paga impostos, mas continua a ser olhado como estrangeiro. Daí eu achar que tanto o João Lourenço como o Marcelo podiam trabalhar numa política nesse sentido. Porque são as políticas que acabam por resolver estes problemas. Há alguns anos esteve aqui o Lula que resolveu os problemas dos brasileiros. Pode até não haver a abertura de vistos mas isso é só um processo.
Tenho uma tia que vive aqui há quase 25 anos, mas em condições em que eu não vivo em Angola. Estou em Angola e tenho ideia de que a minha tia está aqui com tudo, e a primeira vez que fui visitá-la, entro na casa dela e quase que choro. Não acredito que está aqui este tempo todo e continua na condição de imigrante. Quanto tu já contribuíste para este país e até agora continuas a viver como se tivesses chegado agora. Só com políticas é que se pode resolver este problema, encontrar uma forma de resolver esse problema.
Acreditem que sou mesmo engraçado. Sou um gajo com muita piada, muito forte em palco. Prometo que se forem ao espetáculo nunca mais nas vossas vidas vão querer perder um espetáculo meu
Voltando à sua carreira, é possível fazer humor com política em Angola?
Agora, sim. Temos vários humoristas que trabalham essencialmente para o humor político. Há o projeto Goza Aqui, do Tiago Costa, e quase todos os humoristas que operam nessa plataforma têm essencialmente a ideia do humor político. Eu tenho um irmão humorista que fala quase só de política. Este meu irmão, que tem 20 anos, já não sofreu com a influência que eu sofri de não falar sobre política. O Tiago Costa estudou e viveu muito tempo fora, também não tem a mesma influência que eu tive.
Mas quando tu és um humorista político as tuas oportunidades de crescimento são reduzidas, porque as empresas são politizadas em toda a parte do mundo. Todos os humoristas que têm uma índole política muito forte não se veem a fazer grandes propagandas. Eles vivem basicamente daquilo que conseguem tirar dos seus espetáculos.
Gilmário apresenta-se a solo em Portugal, mas já esteve cá anteriormente com o grupo Os Tuneza, através do qual se celebrizou. Como é subir ao palco sem os colegas?
Já estou um pouco habituado a isso. Embora em 2009 comece a fazê-lo de uma forma mais assumida, várias vezes subi ao palco sozinho. Aqui também fiz várias sessões de stand up e mesmo lá também já fiz alguns espetáculos porque eu sou muito fã da comédia stand up. Comecei a apreciar desde os meus 16 anos, vi muito ‘Levanta-te e ri’, vi ‘Comedy Jam’, quando começámos a ter aceso à internet. Cresci influenciado por Dave Chappelle, Chris Rock, que são alguns dos meus ídolos. Então a ideia de fazer stand up dentro deste registo sempre foi uma vontade.
Sente-se mais à vontade sozinho em palco?
Não necessariamente. Sinto-me mais realizado porque uma coisa que sempre foi algo que sonhei em fazer e sempre admirei muito a capacidade das pessoas que o faziam. O meu grupo sempre soube disso. Temos 16 anos de história, muita coisa partilhada e há sempre o conforto. Com eles, não preciso de estar constantemente preocupado se a piada vai correr bem ou não porque sei que vai haver sempre alguém que me vai safar. Somos uma confusão bem organizada.
Dezasseis anos de grupo, este aparecimento a solo não significa que Os Tuneza estejam para acabar?
Não, aliás, defendo muito a ideia de que se um dos grupos quiser afazer alguma coisa acho que não deve ser pressionado a abandonar o grupo. A sociedade pressiona e a pressão externa às vezes faz com que as pessoas se separem.
Convivo com eles há 19 anos e às vezes estou farto de aturar aqueles gajos. É normal que tenha aspirações pessoais. Se a sociedade ou o grupo me obrigar a decidir entre estar no grupo e fazer a minha carreira sozinho, o que vai acontecer é que vou dizer ‘se é assim, vou sozinho’ porque chegas a uma altura em que também tens o desejo de realização.
Mas internamente nós conseguimos falar e arranjar uma forma de continuarmos a trabalhar enquanto grupo e continuar a apoiar os projetos individuais de cada um. Não precisamos de acabar. Até porque os Tuneza nunca vão acabar. Eu vou ser sempre o Gilmário d ‘Os Tuneza. É como os Beatles, quando se fala de alguém dos Beatles vai haver sempre a associação à banda. Os dois pilares principais que mantêm o grupo ate hoje é a amizade e trabalho. Quando falta trabalho a gente compensa com amizade e quando falta amizade compensamos com trabalho.
Vai voltar a Portugal em maio, ainda sem datas marcadas. Para terminar, e em jeito de convite, por que razão devem os portugueses ir assistir a 'Imortal'?
Acreditem que sou mesmo engraçado. Sou um gajo com muita piada, muito forte em palco. Não consigo representar isso em entrevista mas prometo que se forem ao espetáculo nunca mais nas vossas vidas vão querer perder um espetáculo meu. É muita piada. Eu próprio não acredito nesta capacidade que eu tenho. É uma oportunidade para vocês experimentarem um bocadinho do que é a piada do Gilmário Vemba. Vão, não queiram morrer sem antes ver um espetáculo do Gilmário Vemba.